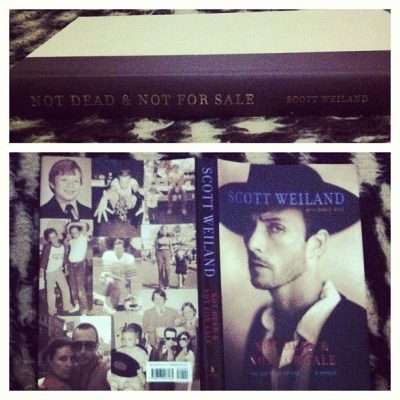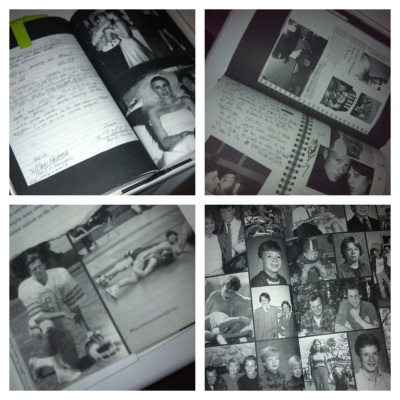Ainda faltavam oito dias para o lançamento oficial, mas, como já era costume desde o início do mês, chequei o site antes de deitar. Ainda nada.
Às 9h do dia seguinte, 11 de setembro, o despertador do celular tocou e, ao abrir os olhos para desligá-lo e voltar a dormir, vi na tela: “abra seu e-mail”. Poderia ser apenas mais uma simples mensagem, mas eu sabia que não era e tinha certeza do que iria encontrar. Acessei o e-mail ainda pelo celular, apenas para confirmar: quatro anos de espera chegavam ao fim.
Ainda esfregando os olhos, levantei da cama e liguei o computador. Vinte e quatro longos minutos depois, Battle Born já estava em meu iPod. À essa altura, a ansiedade, que achei que chegaria ao fim, apenas cresceu. Mesmo assim, me controlei para não começar a ouvir sequer uma faixa antes de poder fazê-lo sem interrupções.
Me vesti, comi uma banana e tomei um copo d’água. Ir para o trabalho nunca foi tão animador. Assim que pisei fora de casa, pluguei os fones no ouvido e apertei o play. Os sintetizadores deram sinal de vida.
Flesh and Bone não era exatamente o que eu esperava e uma pontinha de medo e decepção tomou conta daquele momento. Mas, em seguida, veio Runaways, que soou como velha conhecida e me deixou mais otimista. A próxima foi a faixa-título que, desde o primeiro riff de guitarra, fez com que tudo se encaixasse novamente. Deadlines and Commitments foi amor à primeira “ouvida” e, a partir daí, eu já não tive mais desconfianças e soube que, mesmo quatro anos depois, tudo continuava da mesma forma que foi deixado.
Eu não saberia analisar Battle Born porque todas as minhas palavras seriam extremamente suspeitas. O que eu sei é que, enquanto ouvia as 14 faixas inéditas, eu estava na rua, cercada por gente desconhecida, que nunca vi na vida. E mesmo assim, foi como encontrar a chave e o caminho de volta para casa.